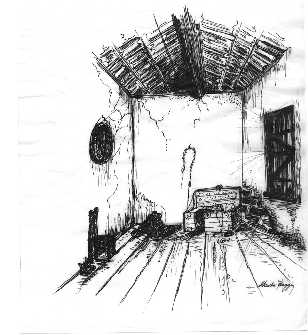 O
Devir das Coisas
O
Devir das Coisas
O Sabor do Pão
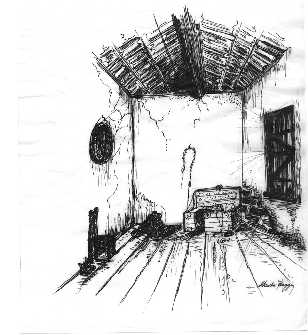 O
Devir das Coisas
O
Devir das Coisas
No tempo em que a vida estava toda à
frente,
A pobreza da gente era feita de singelas
mesmices.
Na hora do almoço, feito só
de alegrias,
Eu vinha de minhas correrias pela rua,
E lá estavam, na chapa do fogão
de lenha,
Aquelas panelas de ferro que vieram da
minha avó;
Alimentaram-me, pois, antes de eu nascer!
E uma prateleira de cinco tábuas
de madeira escura
Sempre bem lavadas com areia e sabão,
Era o que bastava para acomodar
Os pertences da arrumação
da cozinha.
Os alumínios eram secados no jirau
do quintal
Até estralar, brilhantes de ferir
os olhos, ao sol da tarde.
A tesoura preta passou por inúmeras
mãos,
Deu tantos talhes nos tecidos de tear,
Picou tanta coisa, durante tanto tempo
E agora cortava papel para os meus papagaios.
A régua de bálsamo que foi
à escola com meu avô,
E tinha uma data do ano de 1895 entalhada
à faca,
Chegou até a minha carteira do Grupo
Escolar.
E na antiga caixa de cobertas, onde se misturavam
O cheiro do algodão cru e a essência
da madeira de lei,
Uma caixinha de papel continha as nossas
[mais caras lembranças.
Nossa vida era feita de coisas assim, sólidas,
eternas,
Objetos vindos de tempos que nem nos dávamos
conta;
Crescíamos com aqueles elementos
à vista
De nossos olhos descuidados!
As coisas simplesmente essenciais bastavam-nos;
De mais nada sentíamos falta,
Mais nada queríamos trazer para
casa.
Ah! Que saudade de quando eu não
pensava em acumular!
Lavadeira
Humilde, ela chegava sempre
Pelo portãozinho do quintal.
Lá da rua a gente ouvia:
— Ô Siá, a roupa!
Era ela, a nossa lavadeira;
Eu corria abrir o portão
E sentia a mão dela acariciando-me
cabeça;
— Ô Siá, este menino tá
crescendo que nem chuchu!
 A
minha mãe:
A
minha mãe:
— Estamos ficando velhas, Dona Rita!
Minha mãe oferece o café e
Indaga da família — e os filhos,
como estão?
Ela lança os olhos para o alto,
Agradece a Deus pela saúde que ainda
tem,
E conta suas agruras.
A falta que lhe faz o marido, morto há
anos,
O filho maior, em alguma roça, trabalhando,
E os pequenos, com ela, agarrados na barra
da saia;
— É a cruz que Deus deu pra gente,
Siá— resigna-se.
Enquanto conversam,
Elas separam as peças de roupas,
No lençol aberto no chão;
As recomendações de sempre:
Esta ferve, esta não,
Aquela precisa quarar um pouco mais;
— Pode deixar Siá, volta tudo direitinho!
Ela coloca a pedra de sabão por cima
da roupa,
Ata as pontas do lençol numa trouxa
.
Em seguida, com esforço, leva-a
à cabeça,
Que ela traz coberta com um pano de algodão
Para lhe conter os cabelos.
— Esta trouxa não cai não?
— pergunto,
— Até hoje nunca caiu — ela me responde.
E cerra os lábios, mexendo as bochechas
emurchecidas
Como se mastigasse o peso da trouxa de
roupa!
Ela se despede de minha mãe e ganha
a rua
Com a trouxa oscilando na cabeça,
lá vai.
Esqueço o meu olhar naquela figura,
Que se apequena na distância que
aumenta.
Com pouco mais, e só vejo a trouxa,
Que desaparece no topo da extensa
avenida.
Lá se foi. Mora nos altos, na saída
da cidade.
E penso:
Ela, pobre, diabo,
Mora , no alto, na saída,
Eu remediado,
Moro bem no fundo do mundo!
Gente pobre mora sempre
Perto da saída da cidade;
Saída que nunca usam!
Mas essa proximidade,
Dá-lhes esperança.
Por isso, vivem!
E eu? Cadê minha esperança?
Pharmácia
A velha caixa registradora... tlim, tlim....
Sonorizando o dinheiro entrante sempre
no mesmo ritmo,
Lá estava, no centro das atenções,
Com seu metal reluzente e todo desenhado.
Altas estantes, escuras, cheias de
milagres
Embalados em vidros compridos e tampados
Com uma rolha coberta com um papelzinho
retorcido!
 Bem
lá no alto... o "Ferro Quina", pra consertar estômagos!
Bem
lá no alto... o "Ferro Quina", pra consertar estômagos!
Do banco de madeira pesado,
Liso de tantas conversas compridas ali
saboreadas,
Eu via o dente branco de jacaré
Pendente do chaveiro do farmacêutico.
O pharmacêutico! Que figura!
Usava sapatos marrons, testudos, brilhantes;
Tinha uma correntinha enigmática
Presa à larga cinta de couro marcada
pela fivela,
E fazendo uma curva até o bolsinho
do patacão
Que, em sua forma redonda e pesada,
Mostrava todo o tempo já deixado
atrás de si!
Ecoa na pharmácia o ruído
das patas de cavalo no basalto da rua,
As frases ficam paradas no ar, e a atenção
se esquece,
Por um momento, no carroceiro de chapéu
roto
Que passa com um saco de aniagem nas costas.
Histórias... quantas histórias
eram ali contadas
Nas tardes que morriam na preguiça
do poente!
(O menino orelhudo, de pés no chão,
Só ouve e assunta com a aprovação
dos adultos!)
O futuro, nascente do rio lento que solta
bolhas vindas do fundo,
Nunca bateria às portas daquela
calma estagnada,
E a pharmácia estaria lá
para sempre!
(A velha Minas... o mundo, tudo!
Fecundação
| Cria e Recria | De
corte e de Dor | De Pedras e de Vento
| A Língua que me fala | O
Sabor do Pão | A Dura
Face do Ser | A
Sequiosidade de Amar |
PÁGINA PRINCIPAL